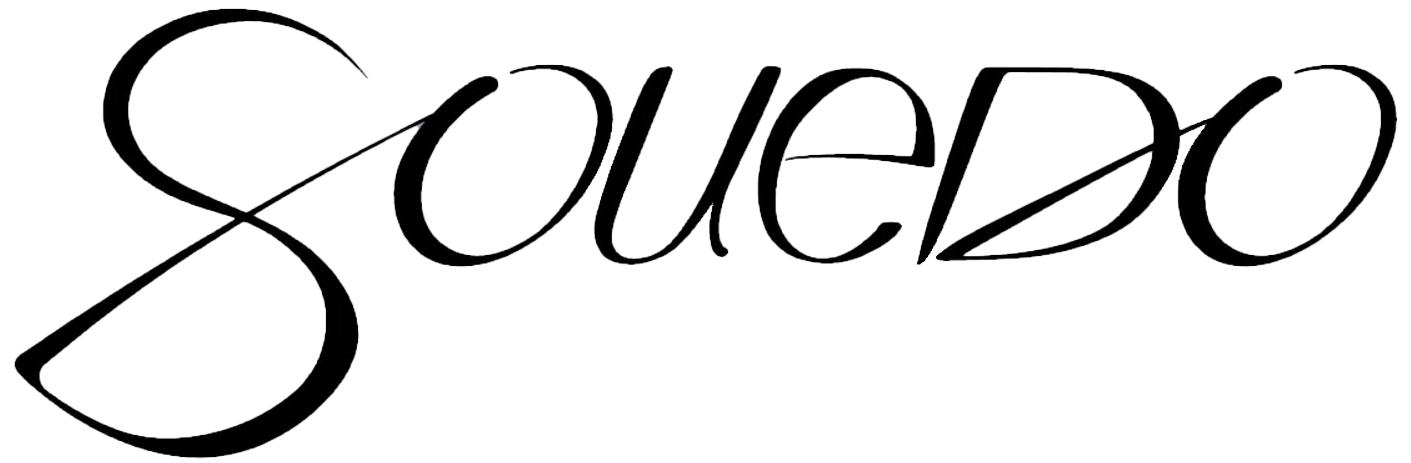Coleção - Capítulo 1
Ex-Camosa
A vida é estranha, ou pelo menos se tornou.
Não sei ao certo, quando ou como isso aconteceu. Contudo, é inegável que as marés não se movem mais do mesmo jeito. O que antes eu tinha como uma verdade imutável da existência agora segue outro fluxo. Navega por diferentes águas, mesmo que pareça errado.
E o mais estranho, é que essa mudança não ocorre só no ambiente à minha volta, mas acontece concomitantemente dentro de mim, fazendo-me questionar se isso não seria, ou não, um renascimento.
Pois lembro de existir, muito antes do que os outros conseguem entender quando alguém diz que “está vivo”. Lembro dos igarapés correndo feito veias abertas no chão. Do cheiro de petricor subindo a terra quente após a chuva ter tocado o mato. Do canto impossível dos uirapurus, atravessando a floresta. Do calor exorbitante sendo atenuado graça às sombras das sumaumeiras.
E, principalmente, lembro das minhas caudas.
Eu costumava ter caudas. Tinha duas, reminiscentes diretas de uma figura antiga e ancestral da qual eu e tantas outras da minha espécie descendem, mesmo que nossa existência seja ainda vista como um faz de conto de fadas.
As minhas caudas duplas eram características inerentes da minha existência e da minha interação com o mundo. Hoje tenho pernas. Secas, eretas, difíceis de entender e controlar. Elas não fazem sentido para alguém como eu. São estruturas que exigem um tipo de equilíbrio que nunca precisei ter. Os joelhos dobram quando não quero. Os calcanhares pressionam o chão de um jeito que machuca.
Não escolhi esse corpo. Ele me foi imposto, devido a esse renascimento estranho.
Diferente do que contam os mitos, eu não ressurgi da espuma. Não houve Zéfiro me soprando à margem ou nem Iara me chamando com canto doce. Quando essa mudança ocorreu, eu não fui trazida por uma pororoca mansa, nem fui envolta em brumas. Nenhuma deidade da floresta ou da água presenciou meu “nascimento”.
Eu só surgi, sem mesmo lembrar a figura de outrora.
Meu corpo mudou antes que eu compreendesse. Perdi minhas escamas. Perdi o rio. Renascer desse jeito não me tornou uma deusa. Me tornou um erro. Um ser estranho demais para o mundo da superfície e agora, também, estranho para as águas de onde vim.
A paisagem ao meu redor também já não se parecia com o que eu conhecia. A luz era esbranquiçada demais, cortava tudo com violência, cegava os olhos que antes jamais precisaram se fechar. Havia um som que me perturbava. Não era um rugido natural, nem o som dos bichos, da correnteza ou do gotejar das cachoeiras. Era algo mecânico. Um ruído irregular e seco, diferente dos murmúrios aquáticos que sempre preencheram meu mundo encantado.

Não negarei que me assustei. O barulho vinha de uma lancha pequena, solitária, deslizando pela superfície do rio como uma máquina implacável pronta para desbravar a natureza, sem temer o desconhecido.
Fugi. Sem poder mais me esconder sob as águas, busquei abrigo numa caverna, como um bicho acuado. E tenho certeza de que, se as pessoas daquela embarcação me avistassem, pensariam o mesmo: que eu era um bicho. Algo que não deveria estar ali. Algo fora de lugar.
Não posso negar: nesse corpo, eu era sim um bicho. Era estranho não me reconhecer em mim mesma. Ter que lidar com partes que não estavam ali. Sentir o toque seco da pele. O calor queimando-a de forma implacável. Eu sequer sabia o que fazer com os braços sem que fosse usá-los para o nado.
Sentei-me sobre uma pedra fria e coberta de musgo, no fundo da gruta. Ali fiquei. Encarei a existência como quem assiste a uma peça de teatro. Do meu esconderijo, passei a observar. E naquele claustro, entrei em contato com o que mais tarde soube chamar-se ribeirinhos.

Neles, reconheci algo que me era familiar. Eram criaturas que, como eu, viviam sobre as águas, mas já não pertenciam a elas. Suas casas flutuavam com a languidez de um tronco em suspensão, como se estivessem à deriva há décadas. Era, sem dúvida, uma vida feita de remendos. Mas havia ordem: panelas penduradas como pequenos sinos, crianças correndo com os pés sujos e rindo entre os respingos do rio e roupas estendidas no varal como bandeiras de um país inventado.

Foi ao fitar aquelas vestimentas, balançando diante de uma janela gradeada, que compreendi uma diferença essencial entre eles e eu. Uma diferença que até então me escapava: eles cobriam suas peles, enquanto eu exibia a minha sem o menor pudor.
Os tecidos que usavam, repousavam sobre seus corpos como minhas escamas um dia repousaram sobre toda extensão de meu corpo, quando de fato era o meu corpo. Vestir-se, percebi, não era apenas um gesto de proteção. Era uma afirmação de forma. A continuação da existência. Uma forma de dizer que esse involucro de carne é real, vive e pulsa. E ali, naquele instante suspenso tal qual uma fotografia, desejei o toque de um tecido como os anjos caídos desejam o regresso ao paraíso.
Almejei aquelas roupas, principalmente por ter começado a me sentir exposta. Não só ao mundo, mas a mim mesma. Como se meu corpo, agora sem escamas, me revelasse uma vergonha que eu nem sabia poder sentir. A nudez, que nunca me pareceu um problema, começava a me inquietar. Talvez, agora que não era mais um ser aquático, a forma em que surgira aqui, nua, entre musgos e silêncios, pudesse parecer uma ameaça. Aos outros e a mim.
Não sei explicar o que foi mais forte: o desconforto com a própria pele, ou o súbito desejo de completude. Mas desejei, com a estranheza dos desejos antigos, sentir o toque daquelas roupas sobre mim. Como se o tecido tivesse o poder de silenciar essa nova carne, de acomodá-la, de torná-la habitável. Não era só pudor. Era um impulso mais profundo. Como o de uma criatura que busca abrigo não por medo do frio, mas por saudade de algo anterior à própria forma.
Quis vestir-me para me completar. Mas também para me esconder. E, principalmente, para quem sabe, pertencer. Integrar-me a um cardume humano. A uma espécie que, diferente da qual eu originalmente pertencia, não me olharia como pária.
Se eu conseguisse me vestir como eles, talvez pudesse me juntar a eles. Ser uma ribeirinha, entre tantas. Dividir as memórias do meu povo, aquele povo que um dia viveu entre rios, lendas e assombrações doces.
Talvez ali, entre os restos de um mundo dividido, eu pudesse enfim estar inteira outra vez.
Com esse pensamento em mente, esperei o veludo escuro do céu noturno surgir diante de nós. Apenas ele seria testemunha dos meus atos.
Saí da caverna sem fazer barulho. A lua, em sua fase crescente, curvava-se no céu como um sorriso enviesado, cúmplice silenciosa daquela travessia. Quando alcancei os sopés da casa, as roupas ainda estavam lá, penduradas no varal, mesmo que já secas.
Peguei o que meus braços, ainda trêmulos, conseguiam abraçar. Não tardei a voltar para dentro da caverna, onde pude sentir o toque do tecido em meu corpo. Pressionei-os contra o peito com força, como se o calor do outro ainda estivesse ali. Eram peças carregadas de intenções que eu ainda não sabia decifrar.
A primeira peça era uma saia. Só fui entender isso mais tarde. Mas, ao vesti-la, ao dar meus primeiros passos pela pedra úmida, senti a parte de trás acompanhar meu movimento com um leve balanço. Havia algo naquele gesto que me lembrava minhas caudas. Não pelas escamas ou pela textura, mas pelo modo como o tecido preenchia o ar atrás de mim. Aquilo me devolveu uma sensação esquecida: a de pertencer ao rio.
A segunda peça, que usei para cobrir os seios, me abraçou, mesmo que o toque gelado do metal do fecho fosse arredio e frio. Ele percorreu meu centro com um estalo seco, e por um instante, achei que tivesse feito algo errado. Mas, ao me fechar nela, senti o tecido se acomodar sobre mim como se me quisesse ali dentro.
Por fora, ele era encorpado, com um toque firme, suave e seguro. Não era agressivo, nem macio demais. E por dentro, escorregava contra minha pele, aquecendo-me e protegendo dos ventos frios que uivavam pela gruta. Era como se o tecido me abrigasse apenas para que eu me sentisse menos estranha nesse novo ecossistema. E foi assim que, pela primeira vez desde que emergi, me senti preparada para passar a noite naquele corpo novo. Um corpo que já não era de sereia, mas também ainda não era humano.

O gorjeio dos pássaros logo me avisou que o dia havia raiado. Saí do meu esconderijo e corri em direção ao igarapé, com a esperança de que talvez essa espécie de renascimento houvesse sido apenas um pesadelo. Mas, ao me olhar no reflexo das águas, percebi que tudo o que vivi até então era real.
Minha tristeza só foi amenizada ao notar como estava bela. As roupas abraçavam meu tronco com um leve brilho, quase etéreo. A cor lembrava a luz do sol refletida na água logo cedo, com nuances de amarelo suave e amanteigado, daquelas que aquecem os olhos antes de tocar a pele. Por um instante, me senti como um tipo de Narciso: arrebatada pela própria imagem.
Mas, por mais belo que esse primeiro impacto tenha sido, logo ele se atenuou.
Os dias passaram a seguir uma mesma fórmula, como uma repetição silenciosa. Eu acordava com os pássaros, observava os barcos passarem, via os ribeirinhos seguirem com seus afazeres diários. Era como viver dentro de um ciclo interminável, como se cada dia precisasse ser engolido e depois regurgitado, à espera de uma novidade que nunca vinha.
O sol parecia mais próximo a cada manhã, e eu acreditava que ele poderia consumir tudo. Esse astro quente poderia evaporar as águas, eliminar as criaturas aquáticas e extinguir os próprios humanos. A cada entardecer, eu me recolhia no fundo da caverna, como quem protege um altar moribundo. Esperava o fim. Ou, quem sabe, a chance de um recomeço.
Mas nada veio.
Continuei ali por muito tempo. Desperdiçando meus dias apenas os vendo transitar, existir entre aquele não-lugar que ocupavam e os limites do que meus olhos ainda alcançavam.
Meu único passatempo era observar aquela casa que havia me vestido. Acompanhei os rostos daquela família à distância: o homem que carregava sacolas, a mulher que varria a frente, as crianças que corriam e depois desapareciam para dentro. E a menina.
Principalmente a menina.

Nesse ínterim, ela começou a se aproximar da gruta. Escolheu o meu santuário particular como o local de suas brincadeiras, como se fosse dela por direito. Não me viu, ou fingiu não ver. Apenas entrava, sentava-se, riscava o chão com gravetos, brincava com bolhas de sabão, cantarolava palavras desconexas ou simplesmente brincava com a água. Não demorou para que eu me acostumasse com sua presença. Todos os dias eu a aguardava surgir, curiosa para ver qual atividade inventaria.

Seu corpo, ainda que pequeno e infantil, de alguma forma se assemelhava ao meu. E naquele espelhamento silencioso, finalmente compreendi o que poderia ser feito com esse corpo que me foi dado. A forma como se anda. O ritmo do pisar. A maneira de existir num espaço sem água.
Depois de dias de tanto observar e aprender, achei que finalmente havia chegado a hora de me revelar àquele ser que eu tinha como hóspede do meu santuário. Infelizmente, constatei que minha presença não seria recebida de maneira amigável ou pacífica.
A garota, que até então eu tomava como reflexo de mim, se apavorou ao me ver. Seus olhos, que sempre pareceram tão tenros e serenos naquele espaço, se encheram de um medo puro, imediato. Me fuzilaram como se eu fosse a pior coisa que um ser humano pudesse cruzar em vida. Ela gritava por socorro e se movia em círculos desorientados, como se estivesse presa em um labirinto, mesmo conhecendo aquele lugar tão bem quanto eu, que ali fizera minha morada.

Logo, mais de sua espécie chegaram. Primeiro a família, aquela mesma família de ribeirinhos que tanto amei em silêncio, e que tanto me ensinou sobre a vida de quem anda sobre pernas. Depois, seus vizinhos. E muitos outros rostos que eu nem imaginava que habitavam aquela mata.
Fiquei atônita. No fundo, eu sabia que não era um deles, pois nunca me esqueci de que vim d’água. Mas, nesse corpo, eu era um simulacro de suas imagens. Como puderam me reconhecer como diferente? Como puderam me atacar? E se ainda tivesse escamas e caudas? O que fariam de mim? Me matariam? Se alimentariam da minha carne? Me exibiriam como um troféu exótico em suas salas decoradas com horror e orgulho?
Eram tantas as perguntas que só saí de dentro da minha mente quando fui, de fato, atacada.
Os primeiros golpes foram capazes de rasgar minha jaqueta e comprometer a integridade da minha saia-cauda. Logo, mãos me agarraram pelos braços, pelas pernas, pelas palavras que eu não disse. Pela primeira vez, gritei. E de minha garganta não saiu som aquático. Não houve canto de sereia. Apenas um grito desesperado, seco, humano.
Talvez por misericórdia divina, consegui me desvencilhar dos braços daqueles algozes. Meu único instinto foi correr mata adentro, sem sequer perceber que estava nua.
Mas a floresta já não era a mesma. Talvez por estar nesse corpo, ou por ter passado tempo demais dentro da gruta, eu já não sabia mais como me portar no ecossistema que um dia chamei de casa. Os galhos me arranhavam, as raízes me prendiam, e a água dos córregos, antes aliada, agora parecia querer me afogar.
Aquele lugar que antes me abrigou, agora me rejeitava. Eu havia me tornado humana demais para ser sereia, mas ainda era estranha demais para ser humana.
O que me restava era fugir, como o animal que me tornei. Sem roupas. Sem nome. Apenas um corpo exposto, sujo de lama, atravessando um mundo que agora me expulsava de todos os lados.
Continuei assim por horas, até que os sons da multidão enfurecida deixaram de existir. E quando, enfim, me senti segura, sentei-me sobre um córrego e pus-me a chorar.
O que teria feito eu aos deuses para que me colocassem nessa situação tão temerável? Nunca sonhei em ser humana. Era contente com minha existência, mesmo sem saber que existia.
Caminhei pela margem tentando ignorar a dor nas pernas. Elas ainda não sabiam como pisar naquele tipo de solo. Estavam riscadas por galhos, enlameadas, fincadas por pedras. Mesmo assim, segui. Sabia que não poderia voltar à gruta. Não havia mais abrigo possível. Nem para mim, nem para o que eu era.
Vestia apenas o que consegui improvisar: fibras secas de árvores, que amarrei sobre o peito e os ombros, criando um top rudimentar. Um gesto mínimo, quase inútil, mas necessário. Apenas para não me sentir completamente exposta ao mundo, ou à ausência dele.

O sol começava a baixar, e com ele descia uma luz amarelada, quase febril, que tingia as árvores, o chão e as margens com a cor da exaustão. Dali, da clareira onde me detive, vi o rio. Ele ainda corria. Ainda existia. E, naquela tarde morna, era ele quem parecia me ver de volta. Segui em direção à margem com passos curtos, atravessando os últimos cipós, até que pude avistei certos barcos.
Eles pousavam sobre estruturas de madeira cobertas por lonas desgastadas. Barcos esverdeados e azulados preenchiam aquela marina improvisada. Eram decorados com artefatos que talvez tenham sido reunidos ao longo de suas vidas quando ainda, no início, eram dignos de serem chamados de Barcos, com letra maiúscula.
Alguns traziam imagens de santas, padroeiras aquáticas que velavam por suas travessias. Outros ostentavam bandeirolas do país ou de alguma parte esquecida da mata. Mas o que mais chamava atenção era um com uma boia laranja, que balançava como um trapezista solitário no picadeiro de um circo: suspenso por uma corda fina, frágil, incapaz de sustentar até mesmo o próprio peso.

Havia também uma embarcação mais afastada de onde eu estava. Dentro dela, vi dois jovens conversando entre si, escorados na lateral do barco. Riam e se movimentavam com gestos simples e pacatos. Um deles vestia uma camiseta branca, larga, que balançava como uma vela ao vento. O outro, mais franzino, tinha o rosto encoberto pelos reflexos do sol.

Não sei ao certo por que continuei andando em sua direção. Talvez fosse o mesmo instinto que move aves em migração ou peixes que retornam ao ponto de origem para morrer. Movia-me de forma errática, como um ser bípede que ainda estava aprendendo a sustentar o próprio corpo. Meu coração martelava o peito com tanta força que me doía por dentro. E se fossem como os outros? E se me ferissem novamente?
Quando estive próxima o suficiente, os garotos recuaram alguns passos. Me olharam com atenção. Me analisaram. Talvez me tenham tomado por humana ou, quem sabe, apenas não se importaram com a minha condição de encantada. Era possível que já tivessem visto seres mágicos o bastante para achá-los tão banais quanto a própria realidade. Mesmo com as mãos sujas de graxa, um deles estendeu o braço em minha direção. Era um gesto rude, mas sincero. Honesto o bastante para me desarmar. Para me fazer esquecer, ainda que brevemente, da crueldade dos mortais.
Eles sabiam que eu precisava de ajuda. E, por alguma razão que talvez nem compreendessem, estavam dispostos a oferecê-la. Me deixaram entrar no barco. Não houve perguntas. Nem desconfiança. Apenas gestos de acolhimento. Ou, talvez, a criatura que eu fui um dia ainda fosse capaz de despertar fascínio. Tal como as figuras da Odisseia de Homero —as que flutuavam e cantavam entre as embarcações — eu ainda causava algum efeito nos olhos dos homens.
Ficamos ali por alguns minutos, até que o motor foi acionado. O som não me feriu como da primeira vez. Já estava habituada. Sentei-me entre eles, coberta apenas pelas fibras secas que eu mesma trançara. O corpo seguia dolorido, mas pela primeira vez em dias, senti algum tipo de descanso.
Ao redor, o rio se abria largo, espelhado, morno. Avançávamos entre curvas suaves de mata, casas flutuantes que se dissolviam na paisagem e sombras na água que dançavam como se dissessem adeus. Vi outros barcos ao longe, como se cruzássemos um corredor de despedidas.
Ver o mundo se movimentando daquele jeito, com a paisagem se abrindo, os meandros do rio nos guiando, me fazia sentir como antes. Como se eu ainda pudesse nadar. Como se houvesse águas invisíveis, feitas de vento, que moviam meus cabelos e me embalavam de novo. Meu corpo, antes estranho, passou a ser menos exílio e mais embarcação.
Estava, enfim, livre. E como Ícaro, voava próximo da vida que um dia foi minha. Mas, ao contrário dele, não pretendia cair. Não me aproximaria tanto do sol a ponto de queimar as asas. Eu queria navegar o bastante para reencontrar minha cauda. Minhas escamas. Minha história.

Eu não sabia para onde aquela travessia me levaria. Mas sabia que, no caminho, seria novamente dona de mim. De meu corpo. De minhas formas. Mesmo que levasse anos, ou dias. Tudo o que já existiu no mundo coube um dia em apenas um dia, como o seu nascimento e o fim que um dia surgirá.
E antes que esse dia final me alcance, terei voltado a ser sereia. E esperarei o fim, serena, banhada pela espuma da ressaca.
Tudo começou com a água e suas infinitas metáforas: a força que transforma e destrói, que muda e se adapta, e, acima de tudo, transita entre mundos — o aquoso e o urbano. Essa dualidade estava presente no trabalho fotográfico que deu início ao nosso prólogo, a nossa primeira exposição.
Durante o vernissage, percebi que aquilo não era apenas um tema que orientava a mostra. Era algo maior. Algo sobre o que aqueles dois mundos simbolizavam. Especialmente para aqueles que, como eu, se viam representados nesses espaços, mas também alheios a eles. Era algo sobre o ato de transitar entre lugares e identidades, e sobre aqueles que nunca entenderam o que é viver nesse entremeio.
Para quem não conhece essa capacidade, de ir do rio à cidade, do Norte ao mundo, parece como observar uma criatura mágica, saída diretamente do folclore regional: um boto, uma sereia, um criptídeo.
Essa foi a grande epifania: um ser mítico, uma metáfora que nasce na água e migra para a terra, como a sereia.
O mito da sereia é o coração das histórias que escreveremos juntos ao longo desta primeira narrativa. Histórias que refletirão ciclos, mudanças, múltiplas perspectivas e o que constitui homens, mulheres e aqueles que habitam entre a água e o concreto. E esse tema, não é apenas uma narrativa, mas uma representação do próprio cerne da marca, cuja proposta é criar um lugar de antologias vestíveis, onde diferentes histórias podem se encontrar e escrever um livro compartilhado de nossas vivências e memórias.
Bem-vindo ao nosso primeiro livro, cujos capítulos logo estaremos usando.
Bem-vindo, Criptídeos.