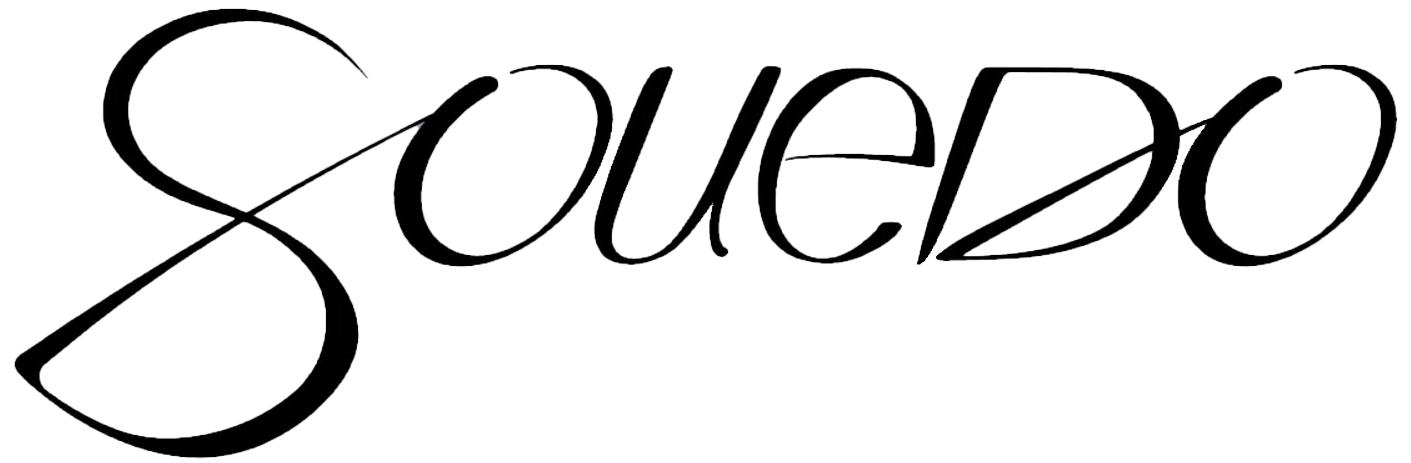Mulheres e Quimeras
Não é apenas de sereias que as mulheres são chamadas. Contudo, essa talvez seja uma das alcunhas menos violentas. A lista é longa, e quase sempre envolve seres mitológicos ou animais usados para difamá-las e rebatizá-las. Essa é uma prática antiga, que atravessa os séculos. Basta lembrar de uma palavra tão comum quanto chula: piranha, um peixe carnívoro que, assim como as sereias, também habita o imaginário amazônico.
Essa prática não é periférica: ela faz parte do núcleo central de como o patriarcado, ao longo da história, criou categorias monstruosas para conter o feminino. Ao longo dos séculos, não faltaram lendas em que o corpo feminino foi metamorfoseado em besta, criando criptídeos destinados a ameaçar não só o homem, mas também a própria ordem masculina do mundo.
Na mitologia grega, a esfinge, com corpo de leão, rosto de mulher e asas de águia ou dragão, é um exemplo paradigmático. Sua voz, tal qual a das sereias, não era apenas um instrumento de sedução, mas o veículo de enigmas insolúveis. E, como ela, outras criaturas femininas reaparecem sob diferentes formas, sempre cercadas pela aura da monstruosidade. As sereias e as águas nas quais habitam ajudam a explicar esse mecanismo.
Sendo esse ambiente aquoso arquétipo do desconhecido e metáfora do inconsciente, ele foi desde cedo associado ao corpo feminino. Assim como a superfície do oceano, a mulher reflete, atrai, mas guarda profundezas insondáveis. O homem que olha para o mar enxerga apenas um reflexo turvo, mas teme aquilo que se oculta nas águas escuras. Da mesma forma, teme na mulher aquilo que não consegue controlar. E, incapaz de lidar com essa alteridade, transforma-a em mito, ameaça, críptideo ou figura a ser domesticada.
A exotificação do corpo feminino nasce dessa mesma lógica: torná-lo visível como superfície, ao mesmo tempo em que o reduz a território desconhecido a ser explorado, cartografado, taxonomizado e remodelado em um ser fantástico que poderia existir além do imaginário masculino, tal qual um críptideo, visto ora como lenda, ora como realidade.
Essa operação, que camufla o desejo de controle sob o verniz do fascínio, transforma a mulher em objeto de estudo e vigilância, retirando-lhe a agência sobre si mesma. Ao classificá-la em categorias e arquétipos, o patriarcado perpetua a ilusão de que compreende e delimita o feminino. Na verdade, ele apenas reforça sua condição de alteridade.
É nesse movimento que se instala o que podemos chamar de “cripitização moral”: um mecanismo de falsificação que organiza o feminino em espécies imaginárias, categorias inventadas para disciplinar corpos e vozes, restringindo sua multiplicidade.
Não é acaso que, na Odisseia, as sereias não são metade peixes, mas metade pássaros: sua estridência representava o incômodo do canto feminino. O problema não era o encanto, mas o simples fato de falarem.
O período vitoriano leva essa lógica ao extremo. A mulher é castrada socialmente e reduzida a um ideal de pureza que nunca existiu. A mulher vitoriana torna-se símbolo dessa “cripitização moral”: nessa época, foi criado um ser intocado, dócil, quase etéreo, tão impossível quanto qualquer criatura fantástica.
E seus efeitos reverberam até hoje. No cinema, a Noiva de Frankenstein, criada pela imaginação de um homem e costurada em pedaços de outras mulheres, encarna de maneira exemplar esse processo. Sua única fala é um grito agudo, próximo ao canto das sereias, e reduzido a ruído. A atriz Elsa Lanchester chegou a comentar, de forma jocosa, que o maior papel de sua carreira havia se resumido a alguns grunhidos. Além disso, o figurino reforça a operação de exotificação: as ataduras que recobrem seu corpo deixam entrever suas formas, sexualizando-o de modo indireto. A imagem evoca a de uma múmia: um corpo morto, preservado artificialmente cuja feminilidade só retorna como espetáculo. A mulher, mais uma vez, aparece como criatura impossível, associada simultaneamente à sedução e à morte, sem direito à existência plena.

Elsa Lanchester em A Noiva de Frankenstein (1935)
Na literatura, Gilbert & Gubar, em A Madwoman in the Attic, forjaram a dicotomia entre o “anjo do lar” e a “mulher-monstro”: duas faces da mesma criptologia. Na esfera pública, figuras históricas como Maria Antonieta passaram por um processo semelhante. A rainha francesa foi transformada em caricatura viva, retratada em panfletos como devassa, voraz, quase inumana até que sua imagem fosse destruída antes mesmo de sua execução.
Esse mesmo destino recaiu sobre muitas outras mulheres que ousaram ocupar espaço político ou cultural, de Joana d’Arc a Safo, de Eva Perón a figuras contemporâneas julgadas nas redes sociais: a difamação funciona como um ritual de contenção, tentando silenciar a sua presença e diminuir sua voz.
Essa lógica atravessa também a moda. Durante séculos, roupas foram desenhadas por homens para corpos femininos que não correspondiam ao desejo real das mulheres. Criavam vestimentas para quimeras delicadas, idealizadas por uma visão masculina de perfeição e submissão. O próprio Dior, com seu New Look de 1947 — originalmente chamado de linha corolla — propunha uma analogia simbólica da mulher a uma rosa.

New Look Dior Por Patrick Demarchelier
O resultado dessa operação é a difamação. Ao serem tratadas como quimeras ou criptídeos, as mulheres carregam o estigma do excesso, de algo errado e perigoso, em que qualquer passo seu pode ser lido como um ato de monstruosidade. Ao longo da história, ciência, medicina e filosofia apenas refinaram essa lógica, revestindo-a de autoridade e transformando o corpo feminino em espetáculo, enigma ou patologia.
Entre pássaros e mares, entre sereias e esfinges, persiste o medo ancestral do feminino. Um medo que prefere disfarçá-las em monstros a encarar sua potência real. Esse medo moldou mitos, leis, imagens e roupas, atravessando séculos até infiltrar-se na linguagem cotidiana, que insiste em chamá-las de bichos, sereias e outras criaturas.
Não é coincidência que muitos mitos de criação nas culturas patriarcais se sustentem na violência e no assassinato: Kronos castra o pai, devora os filhos e depois é morto por Zeus; em outras tradições, gigantes são esquartejados e sua carne transforma-se em rios, montanhas e terras férteis. O mundo masculino, incapaz de gerar vida, funda sua ordem a partir da mutilação e do sangue. Enquanto a mulher possui um útero, capaz de criar, o homem dispõe apenas da pequenez de uma mente dominada pelo medo: medo do sexo desconhecido, medo da alteridade, medo daquilo que habita as profundezas do oceano.
É essa diferença que atravessa toda a lógica da “cripitização moral”. O patriarcado inventa monstros porque não pode aceitar que a mulher não precise ser inventada. O que nasce dessa invenção não é vida, mas simulacro, ruína, caricatura. A mulher, reduzida a sereia, esfinge ou quimera, foi por séculos tratada como metáfora de um enigma insolúvel. Mas o verdadeiro enigma nunca esteve nela. Está no olhar que, incapaz de reconhecer sua potência, escolheu o medo, a difamação e a criação de monstros em seu lugar.