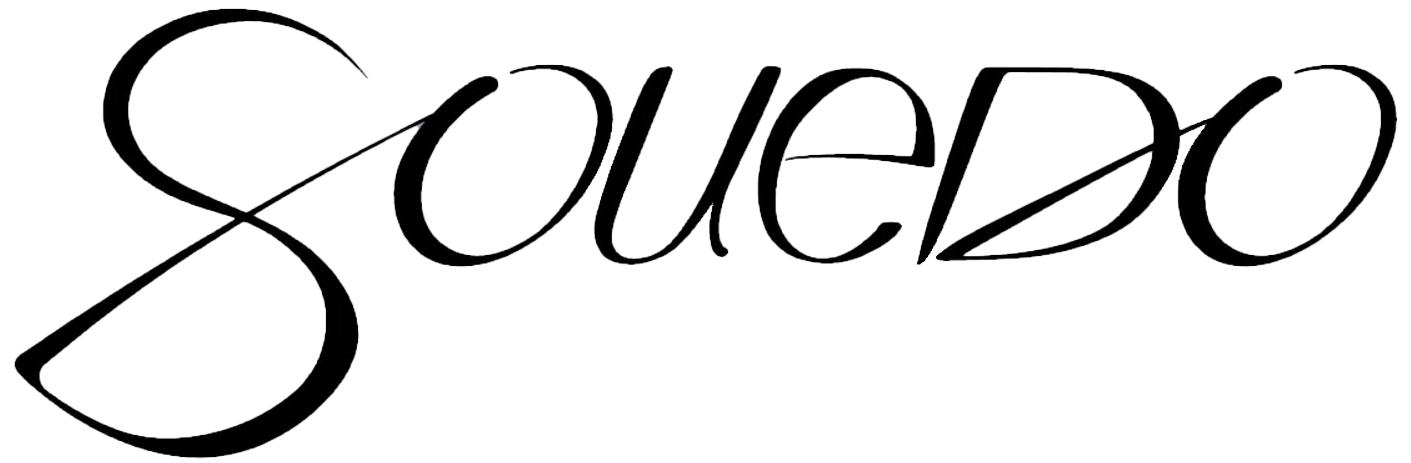Roupas e performance
Quem de fato somos quando não estamos performando?
Na vida cotidiana, somos atores de uma peça sem ensaio. Nela, não há cortina que se feche, tampouco um camarim que sirva de refúgio. Como escreveu Erving Goffman em A Representação do Eu na Vida Cotidiana, a vida em sociedade é estruturada como um palco: cada interação exige um papel, uma performance, uma adaptação ao olhar do outro. Mas, ao contrário do teatro, aqui a peça não acaba. A personagem permanece. E o figurino, muitas vezes, nem é trocado.
Presos nessa condição de atores, vivemos inúmeras antologias por dia. E cada uma delas exige um código visual. A roupa, nesse contexto, deixa de ser apenas expressão e passa a funcionar como ferramenta de sobrevivência. A cada cenário, uma nova persona. A cada papel, um novo corpo. E ambos estabelecidos, quase sempre, pela vestimenta.
Diante disso, uma pergunta se impõe: como distinguir quem somos do que estamos representando? O figurino responde antes de nós.
Ele delimita as bordas entre o íntimo e o público. É o que nos defende, mas também o que nos apresenta. Como no armário de As Crônicas de Nárnia, há mundos inteiros escondidos no interior de um guarda-roupa. Mundos que só se revelam com a roupa certa. Afinal, o vestuário nunca é neutro. Como aponta Roland Barthes, ele é um sistema de linguagem complexo, no qual cada detalhe comunica algo.

Créditos: As Crônicas de Narina, 2005.
Até aqui, nada de novo. A questão começa quando essa linguagem, antes construída por desejo e contexto, passa a operar de forma automática. Quando o código se impõe sobre a escolha e a repetição substitui a criação.
Ao nos acostumarmos a habitar o mundo por meio de padrões já validados, imagens replicadas e gestos autorizados, o figurino perde sua potência de expressão. Deixa de ser linguagem e passa a ser escudo.
Um mecanismo de defesa.
Nem sempre escolhemos o que vestimos porque desejamos. Muitas vezes escolhemos porque precisamos nos proteger. A armadura que carregamos nem sempre representa o que somos, mas sim o campo de batalha para o qual fomos empurrados. Tal qual clones, marchamos em uniformes. Defendemos causas nas quais nem acreditamos. Incorporamos símbolos sem questionar sua origem ou seu sentido.
Moldamos nosso corpo e comportamento para agradar, evitar conflito, alcançar aprovação. Aguardamos os aplausos que validem nossa atuação. E, nesse processo, acumulamos camadas. Camadas de personagens, de referências e de vestuário. Camadas que, em vez de aprofundar quem somos, apenas nos recobrem.
Quando tudo se torna encenação contínua, resta pouco espaço para o que não foi ensaiado. Até mesmo nossas roupas parecem versões de outras roupas, inspiradas em imagens que imitam um desejo anterior. Dessa forma, a originalidade se dissolve e a expressão se automatiza, ao ponto de não termos mais uma personalidade que se expresse através das roupas e sim, uma armadura ou uma máscara, que esconde quem de fato somos.
Não é à toa que a raiz etimológica de “personalidade” e “máscara” deriva da palavra persona. Elas são espelho uma da outra. O mesmo lado de uma moeda. Somos personagens que esqueceram o roteiro original.
Ainda assim, seguimos atuando. Continuamos a vestir silhuetas, gestos e posturas que já não comunicam nada. O figurino se sustenta mesmo quando o papel já não faz sentido.
Isso pode parecer um assunto exclusivo a uma indústria que é vista pelo grande público através da lente da superficialidade. Não, de forma alguma. Isso não é só sobre vaidade. É sobre pertencimento. E, sobretudo, exclusão.
As roupas nos protegem, mas também segregam. Moldam não apenas o corpo, mas nossa relação com o outro. Criam personagens que cabem na narrativa dominante e rejeitam os corpos e modos de existência que escapam dela: monstros urbanos, transviados, seres não catalogados. Quem vive fora do padrão é empurrado para a margem de tudo aquilo que foge da lógica branca e cis.
Vivemos em uma sociedade obcecada por distinção e por não parecer ordinária. Em meio a vozes que ditam o que é chique, o que é moda, o que é “de rico” ou “de herança”, os corpos são classificados como se fossem produtos: legítimos ou não. Desejáveis ou não. De consumo ou de escárnio.
Exemplos não faltam. Ícones da moda transformam sandálias de borracha em fetiche escandinavo por milhares de reais, enquanto a versão original é desprezada por seu “excesso de Brasil”. Ou, a usurpação de estéticas periféricas por marcas de luxo, que se calam quando alguma calamidade acontece com quem de fato vive naquele universo.

Créditos: Campanha da Rabanne no Rio de Janeiro, 2025.
O que era genuíno vira referência apenas quando higienizado, reembalado e validado por narrativas externas.
As armaduras que usamos, conscientes ou não, participam desse jogo. Protegem, mas também delimitam. Nos moldam ao roteiro social e, muitas vezes, nos transformam em figurantes de um espetáculo que sequer escolhemos integrar.
Não estamos mais vivendo nossas histórias e sim encenamos versões plausíveis de outras vidas. Nos tornamos criptídeos: figuras que tentam existir entre lacunas e falhas do sistema. Ser original, hoje, é parecer estranho. É habitar o limite do que se reconhece.
Talvez, então, o estilo genuíno só exista quando conseguimos transformar o figurino em expressão verdadeira quando essa armadura, ao invés de proteger, passe a revelar quem de fato somos. Como dizia Heidegger, a obra de arte é o desvelamento da verdade: ela inaugura um mundo até então oculto.
E o mesmo vale para o estilo.
Ele não é um acessório intercambiável, tampouco uma fórmula replicável. Ele é a manifestação de um ser que “é”, e não de alguém que “está”. Quando o figurino deixa de ser escudo e volta a ser linguagem, ele nos devolve acesso àquilo que resiste sob as camadas. E quem sabe, nesse gesto, ressurja a possibilidade de uma verdade não ensaiada. O estilo, afinal, é o contrário do disfarce: ele não encobre, ele revela. E ao revelar, expõe também o sistema que tentou calá-lo.