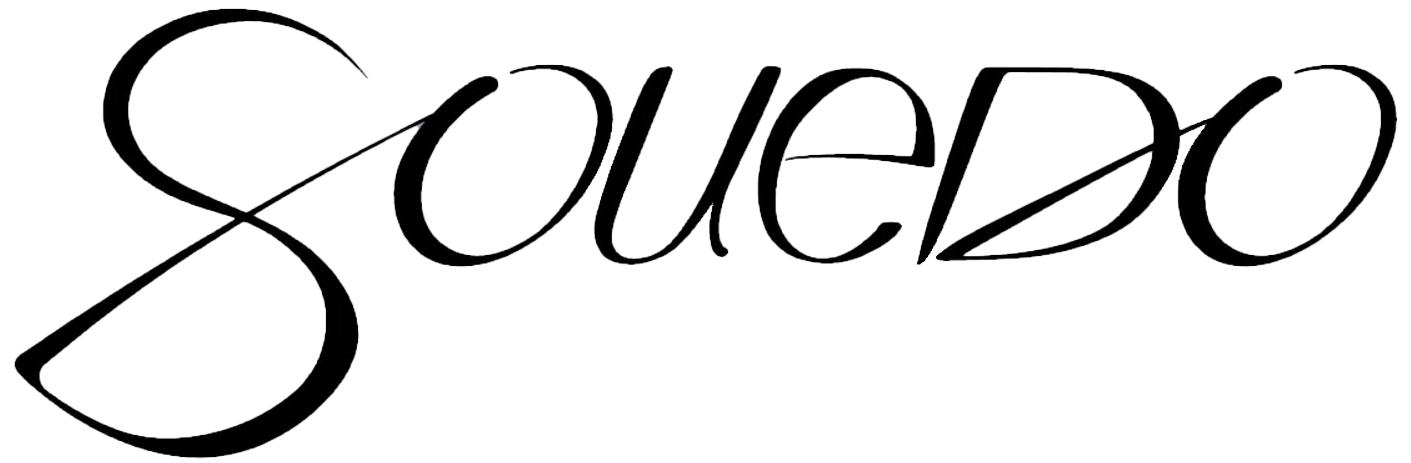Onde a água ensaia a memória
Créditos: Vitor Hugo, retratado em plano detalhe. Fotografia analógica em preto e branco realizada entre 2018 e 2019, na piscina da família.
Recentemente, tive um sonho. Um daqueles que não pedem esforço para serem lembrados, porque continuam repercutir dentro da gente.
Sonhei com uma piscina, uma aula de teatro acontecendo dentro dela, e uma briga no final. Tudo isso na cidade onde nasci. À primeira vista, pareciam imagens soltas, mas havia um elo invisível entre elas, como se o sonho fosse, na verdade, uma montagem: uma dramaturgia íntima costurada a partir da minha própria história e da Souedo.
Dentro da piscina, com seus azulejos artificiais, acontecia uma aula de teatro. A cena se desenrolava sob a água. Todos participavam da encenação. Menos eu.
Fiquei na borda. Não entrei. Não atuei.
Talvez por vergonha do corpo, ou medo do olhar do outro. Ou talvez apenas por não reconhecer o texto, já que mergulhar nela, seria aceitar um papel que não escrevi.
Acordei com essa imagem presa na mente. E logo compreendi que aquela piscina não era apenas símbolo. Era também uma lembrança. Era a mesma piscina da minha casa. O epicentro da vida familiar.
Inúmeras festas de aniversário aconteceram ali. Assim como churrascos, brincadeiras com meu pai, aulas de natação, a hidroginástica dos meus avós. Meus irmãos mergulhávamos com naturalidade, antes mesmo de saberem o que era se expor. E eu, ainda pequeno, com minha babá, antes de me tornar aquilo que hoje chamo de críptideo, também mergulhava.

Créditos: Vitor Hugo boiando em suspensão. Fotografia analógica em preto e branco realizada entre 2018 e 2019, na piscina da família.
Com o tempo, nós crescemos. Nos mudamos, e a piscina ficou vazia. Abandonada como um teatro entre temporadas, esperando outro espetáculo. Até porque tudo que é palco sabe que a história, uma hora ou outra, retorna.
A vida, e a Souedo, principalmente, é feita de antologias. Capítulos que se encerram, mas deixam margem para outros que ainda virão. Logo, não é difícil de imaginar que os filhos dos meus irmãos mergulharão ali. Minha cunhada, uma espécie de sereia estrangeira, também. Assim como tantos outros criptídeos.
Como acontece no teatro, o palco não desaparece com o fim do ato; ele espera. O show continua para que uma nova antologia possa boiar.
Talvez por isso o sonho tenha me marcado. Porque ele não era apenas sobre mim. Ele era sobre o que já passou e sobre o que ainda vai acontecer. Sobre a piscina como espaço cênico e emocional. Porque a água nunca é só água, ainda mais quando contida no perímetro de uma piscina. Nesse contexto, ela torna-se um fragmento do inconsciente aprisionado no quintal.
Na Souedo, a água também sempre esteve presente. Ela foi o ponto de partida do nosso prologo (nossa exposição fotográfica), ela é parte do cenário no qual desenrolará nossa antologia e, quiçá, tornar-se-á um código da marca.
Nosso personagem principal emerge das águas porque a água é anterior à forma, ao nome, ao corpo como se espera que ele seja. É nesse estado fluido que tudo começa. Por isso, nossa primeira coleção parte dela: da origem aquática, atravessa a cidade e retorna à água transformada. A piscina, nesse percurso, é simbólica: é o mar domesticado, o inconsciente com bordas. Também é ponto de partida, como foi para tantas civilizações que nasceram à beira d’água. Ela guarda em silêncio e o poder de reiniciar histórias que nunca voltam da mesma forma.
Também me lembrei de uma iluminura medieval que vi no Instagram, retratando o dilúvio. Nela, corpos humanos, animais e aberrações boiavam juntos, submersos sob o mesmo castigo. Naquela iconografia, a água não era redenção. Era exposição. Era palco da vergonha coletiva. A piscina do meu sonho carregava essa mesma energia: ali, não era Deus quem condenava. Era o olhar. A sociedade. A expectativa. A performance obrigatória.

Créditos: Imagem retirada de Les Heures de Louis de Laval, iluminura produzida pelo ateliê de Jean Colombe por volta de 1485, atualmente preservada na Bibliothèque nationale de France (BnF), Paris, manuscrito Latin 920, fol. 15v. Reprodução via @effervescencesmedievales no Instagram.
Esse sonho me atravessou como atravessam as verdades que a gente tenta evitar, mas que nos habitam. Ele falava de mim. De um corpo que já não é o mesmo. De alguém que carrega uma cicatriz (a do meu transplante), como quem guarda uma linha entre dois mundos. Um corte que nunca fecha totalmente. Um lembrete de que sobreviver é também se transformar e ter sua história rescrita.
Foi nesse ponto que tudo se ligou para mim. A marca que criei, a Souedo, também nasceu desse lugar de reescrita. Ela existe para narrar aquilo que costuma ficar à margem: histórias fragmentadas, corpos que foram mal lidos, afetos que escapam da norma. Trabalhamos com antologias vestíveis porque não acreditamos em narrativas únicas. Cada coleção é um capítulo. Cada peça, uma tentativa de dar forma ao que quase nunca é dito. A roupa, nesse contexto, é mais do que superfície: é linguagem, é gesto, é memória costurada.
É por isso que os criptídeos são o centro da nossa narrativa. Criaturas que não se encaixam nos sistemas de classificação, que vivem entre rumores e silêncios. A sereia, entre todos, é a mais próxima de mim. Ela é também a personagem central da nossa primeira coleção. Assim como tantas sereias nos contos, ela tenta se adaptar ao novo amor, ao novo mundo. Ela muda o corpo, renuncia à voz, negocia com a dor para ser aceita.
De certa forma, eu também entendo esse desejo.
Eu também, por muito tempo, quis fazer esse pacto. Quis me livrar da cicatriz. Ser lido como humano novamente. Não como criatura. Não como um corpo deslocado, marcado, estranho.
Como a sereia, eu também vivo entre a terra firme e o fundo do mar. Também tenho medo de ambos. A água é onde posso ser visto, mas também onde posso desaparecer. E, naquele sonho, à beira da piscina, eu era uma espécie de tritão hesitante.
Um corpo exposto num ringue de expectativas. Um ser que se recusava a afundar.
Tentando preservar a própria estranheza.