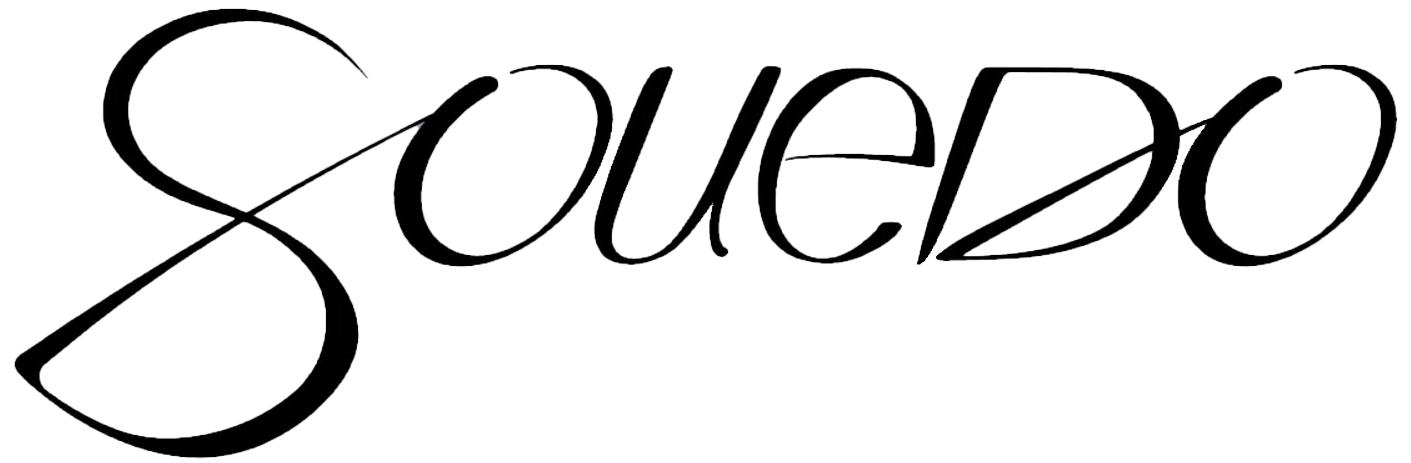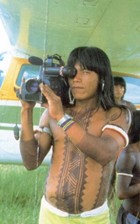
A arqueologia dos vivos: sobre os invisíveis que optam pelo silêncio
Créditos: Kayapó cinegrafista com câmera de vídeo sob a asa de um avião, década de 1980. Foto: © Sue Cunningham / Sue Cunningham Photographic Library.
O Brasil abriga a maior quantidade de povos isolados do mundo. São mais de 110 registros de grupos que vivem sem contato permanente com a sociedade nacional. Contudo, eles sabem que existimos. Conseguem ouvir o motor dos aviões, observam trilhas abertas no chão e, sobretudo, nossas interferências na floresta. Sabem que há outros, e, mesmo assim, escolhem não ter contato com esse “umbral”. Eles optam por continuar isolados.
Nos recusamos a aceitar isso. Como arqueólogos de corpos ainda vivos, aproximamo-nos desses povos como quem investiga ruínas. Como se estivéssemos, secretamente, desejando que já estivessem mortos para que pudéssemos estudá-los com tranquilidade. Tentamos classificá-los como espécies extintas, quando, na verdade, não são.
Há algo profundamente incômodo nesse desejo contemporâneo de descobrir tudo, de iluminar todas as cavernas. Transformamos o que escapa ao nosso controle em objeto de fascínio ou de medo. Como seres que flutuam entre o real e o mítico, essas populações isoladas são tratadas ora como lendas, ora como ameaças, ora como relíquias.
E, assim como os Criptídeos do nosso imaginário, são cercadas por uma névoa de especulação. Vistos como figuras de um outro mundo.
Mas, se afirmam para si mesmos uma existência plena, autônoma, consciente, se escolheram viver à parte, em outro tempo e território, não seria essa escolha justamente a que mais merece respeito? Não se trata de abandono, mas de reconhecer que há formas de vida que só existem enquanto permanecem inatingidas pelas mazelas da sociedade atual.
Somos nós que, ao buscar contato, transformamo-nos na ameaça. Somos predadores intraterrestres perigosos dessa "floresta negra" onde, paradoxalmente, a ameaça não é a mata, mas o homem que nela insiste em entrar.
Eles são os que escolheram a sombra como resistência política e existencial. Sabem o que aconteceu a outros povos que aceitaram o contato: doenças, espoliação, violência, o apagamento cultural. Nada novo sob o sol. Quando os portugueses chegaram, trouxeram com eles não só aço e pólvora, mas também vírus e sistemas de opressão que até hoje seguem corroendo os alicerces de suas culturas.
O contato é quase sempre um ciclo de destruição. Como no modelo clássico do “contato de quarto grau” que usamos para descrever encontros com alienígenas, aqui somos nós os extraterrestres: invasivos, tecnológicos, letais. Primeiro contato: uma visão à distância. Segundo: um objeto deixado na trilha. Terceiro: aproximação. Quarto: o contato pleno, a morte. A Funai, que observa esses povos de longe, compreende essa trajetória: a maioria das tribos isoladas que tiveram algum contato sucumbiram nos primeiros anos. O trauma do encontro motiva o isolamento.
Quando se pensa em povos isolados, o imaginário quase sempre se volta ao passado pré-cabralino ou a figuras como o povo Sentinela do Norte, na Oceania. Como se fosse um fenômeno distante ou exótico, não um espelho da nossa própria incapacidade de coexistir sem violentar. Mas não se trata de um passado fossilizado, poia na floresta, esses povos permanecem.
Alguns sem qualquer tipo de proteção, vivendo em territórios não homologados ou em reservas ameaçadas por garimpeiros, madeireiros, pecuaristas. Nem mesmo as Terras Indígenas oficialmente demarcadas, como a Yanomami, garantem segurança plena. Mesmo sob a proteção do Estado, os povos são alvejados com doenças, armas, abuso sexual, a lenta corrosão de seu modo de vida.
A questão que ecoa é: como proteger aqueles que não querem ser encontrados? Contudo, permanece sem resposta definitiva.
A Funai, as Frentes de Proteção Etnoambiental, os antropólogos, todos tateiam esse limite, oscilando entre a necessidade de vigilância para sua proteção e o respeito pela sua escolha de permanecer invisíveis.
Vivemos, então, uma arqueologia do presente: buscamos sinais de vida, rastros, pegadas, como quem tenta decifrar civilizações mortas, quando, na verdade, são pessoas vivas, que respiram, decidem e resistem. Assim como buscamos vestígios de seres que apenas ouvimos falar, que raramente se deixam ver, forçamos o olhar sobre esses povos como quem caça o improvável, o indomável, como quem busca capturar o último indício de uma criatura esquiva.
Um Críptideo, não de lenda, mas de carne, história e política.
Como escreveu um sertanista, profissional responsável por proteger territórios indígenas: “a glória de um sertanista deve ser a de defender um povo que ele nunca vai ver”. A grandeza está justamente em não ultrapassar o limite, em reconhecer a soberania do outro e a sua escolha pelo silêncio.
No fundo, o fascínio pelos povos isolados é também uma forma de confrontar o que nos falta: a capacidade de existir sem a necessidade de expor tudo, sem o impulso de capturar, sem a ânsia de transformar o outro em espetáculo.
Talvez o verdadeiro enigma não esteja nas clareiras fechadas da Amazônia, mas no que somos quando não conseguimos aceitar que, do outro lado do mato, alguém escolhe, consciente e livremente, permanecer um mistério.
Referências bibliográficas:
LOPES, Bernardo Esteves. A suspensão do outro. Revista Piauí, edição 207, fevereiro de 2024.
LOBATO, Bela; ROSSINI, Maria Clara. Os últimos povos isolados. Superinteressante, edição 414, abril de 2025.