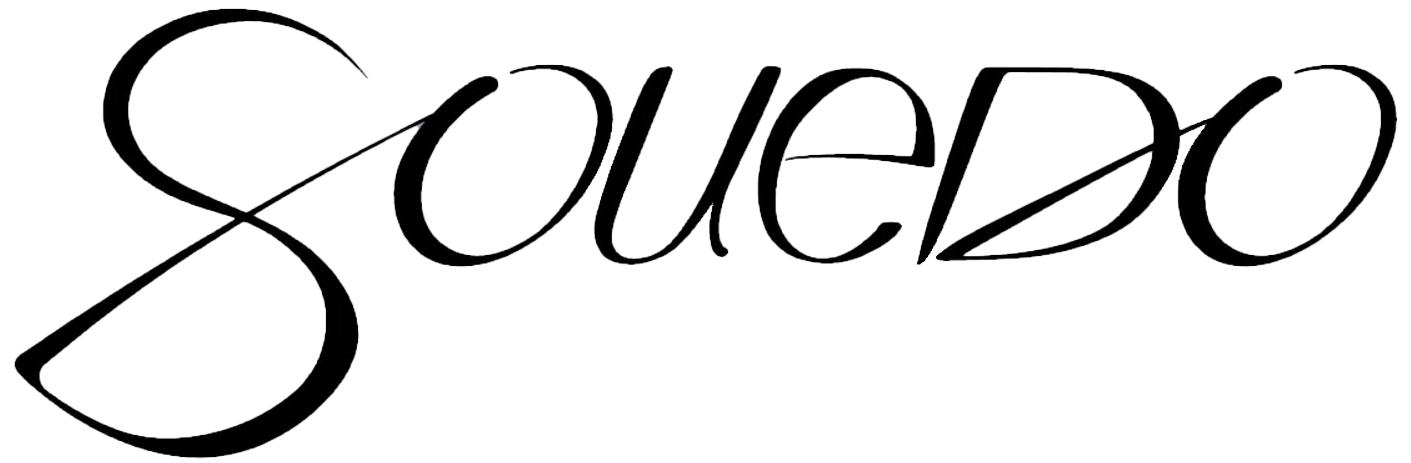Amarelo: somente uma cor “manteiga”?
A primeira vez que me lembro de ter visto o amarelo manteiga foi no filme Spencer, do cineasta Pablo Larraín.
Nele, Kristen Stewart interpreta uma Lady Di à beira do colapso. A cena em questão é breve, parte de uma montagem, já quase no final, que simbolizava sua libertação da família real. Diana corre pelos campos do palácio com um vestido amarelo pálido. É ali, naquela imagem do “conto de fadas falido”, que o amarelo manteiga se mostrou pra mim.
O filme foi lançado em 2021, mas a cena foi gravada em meados de 2020: ano pandêmico. A doença estava no ar, e talvez só nos restasse essa cor: o xântico. Um tom que parece conter luz, mas uma luz com febre. Um amarelo que não aquece, apenas estagna. Em vez do ouro, o mofo dourado. Em vez de esperança, a cor de uma enfermidade.

Créditos: Frame do filme Spencer, dirigido por Pablo Larraín. Reino Unido, NEON / Shoebox Films / STXfilms, 2021. Na imagem, Kristen Stewart interpreta a princesa Diana, correndo pelos campos do palácio com um vestido em tom amarelo manteiga.
Não é a primeira vez, aliás, que o amarelo se aproxima da ideia de contaminação. Historicamente, ele nunca foi uma cor inocente. Na mitologia, o rei Midas transformava tudo em ouro com seu toque maldito, inclusive sua própria família. Vincent van Gogh, por sua vez, pintava obsessivamente em tons amarelados. Há teorias que ligam o uso excessivo dessa cor a efeitos colaterais de medicações ou fungos que distorciam sua visão. O amarelo, mais uma vez, aparece como doença. Como delírio. Como excesso.
É dentro dessa tradição simbólica que entra o amarelo manteiga. A metáfora alimentar não é gratuita. A manteiga é um alimento que conforta, sim, mas também entope. É gordura e nostalgia. Em um mundo atravessado por uma epidemia de obesidade e por estéticas saturadas de açúcar (leia-se: todas as micro e macro tendências do Instagram e TikTok), talvez o amarelo manteiga seja exatamente isso: o sintoma cromático de um desejo coletivo por conforto rápido, de consumo emocional leve e digerível, mesmo que ele não alimente de fato.
Esse desejo se expressa também na cultura visual. Basta olhar para o imaginário das chamadas tradwives (esposas tradicionais) e toda uma estética conservadora travestida de delicadeza. Vídeos de influencers em cozinhas cor-de-rosa, vestindo aventais vintage, cercadas por geladeiras retrô e batedeiras em tons pastéis. O insumo constante? Manteiga.
Muita manteiga.

Créditos: Imagem publicitária de eletrodomésticos em tom amarelo manteiga, década de 1960.
Fonte: material promocional vintage, possivelmente da General Electric (1960’s retro fridge, em tradução livre: “geladeira retrô dos anos 1960”). Domínio público.
Essa nostalgia por um passado idealizado, onde os homens usavam calças e as mulheres, de saia, faziam bolos sozinhas para a família, funciona como uma forma de alienação. Um teatro estético que encobre a complexidade do presente com a ilusão reconfortante de que, no tempo dos nossos pais, tudo era melhor. O amarelo manteiga combina com esse papel: é a cor de uma cozinha limpa demais, de uma rotina encenada, da família do comercial de margarina, mas que na verdade, representa a recusa em encarar os desafios do agora.
Essa não é uma invenção contemporânea. Ao longo da história, o amarelo sempre foi essa cor bifronte. É a capa dos livros que envenenam, como aquele que corrompe Dorian Gray. É o papel de parede que enlouquece a personagem de Charlotte Perkins Gilman. É o ouro doentio que cobre o manto do Rei de Amarelo, de Robert W. Chambers. É também o tom que tingia os vestidos das prostitutas nos quadros de Toulouse-Lautrec. Tudo isso existe sob a superfície dessa cor. Por trás da aparência suave, um peso simbólico que atravessa os séculos.

Créditos: Capas de The Yellow Wallpaper, de Charlotte Perkins Gilman, e The King in Yellow, de Robert W. Chambers.
Talvez por isso o amarelo manteiga tenha nos parecido tão inevitável agora. Ele surge num momento em que o conservadorismo volta a ocupar o centro do debate cultural, não apenas na política, mas também no estilo. A estética old money, a alfaiataria discreta, o desejo por formas clássicas e tons apagados ganham espaço em meio à instabilidade. Em tempos de recessão econômica, colapso climático e excesso de informação, tons neutros e silenciosos funcionam como código de segurança simbólico.
A suavidade virou sinal de pertencimento.
O amarelo manteiga mistura bem essas duas camadas. Ele não chega com impacto, mas se espalha. Uma estética que promete leveza, mas que, muitas vezes, serve para suavizar o incômodo de viver no presente. Uma forma de organizar o medo pela contenção, como se o silêncio visual pudesse dar conta do barulho social.
Hoje, ele reaparece como símbolo de suavidade. Mas sob essa superfície macia existe uma tensão contida. É uma cor que não vibra, mas que também não é neutra. Sua delicadeza é medida, pensada, quase estratégica. Em uma época de saturação visual e emocional, o amarelo manteiga oferece uma espécie de refúgio, como um doce amanteigado que acalma, mas não sacia.
Vestir essa cor é mais do que escolher um tom discreto. É adotar uma linguagem: a de um tempo que já não quer mais gritar, mas que também não sabe como silenciar. Uma tentativa de organizar o caos pela suavidade, de encobrir o ruído com estética.
No fim das contas, ele poderia ter sido qualquer outro tom: o amarelo leitoso de um melão, o creme seco de uma banana-da-terra, ou o tom translúcido de uma pêra asiática. Mas não. É manteiga. E isso não é por acaso.
A manteiga conforta, mas também pesa. É alimento e excesso. Um nome que diz exatamente o que essa cor quer parecer e o que ela tenta encobrir.
E só resta agradecer por não ser margarina.
Essa, seria ainda pior.dadani