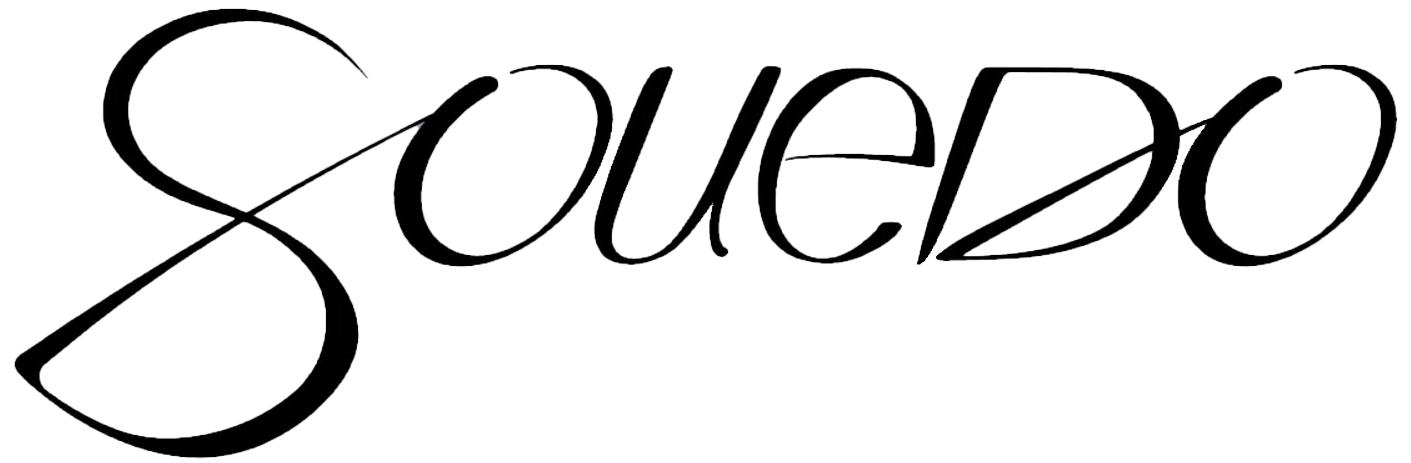Moda Mediúnica: Quando a Criação se Torna Canal Espiritual
Se pararmos para pensar, a relação entre um criador e sua criação — no caso da Souedo, não apenas nossas roupas, mas também nossas imagens, narrativas e atmosferas — é uma relação mística. Algo próximo da mediunidade.
E talvez seja por isso que o criador, como o médium, também seja, no fundo, um críptideo. Um ser que vive entre margens. Que aparece e desaparece. Que se move entre o visível e o invisível, o palpável e o mítico. Alguém que, assim como os personagens de nossas coleções, não pertence inteiramente a um só mundo.
O próprio termo médium já carrega esse significado: aquele que está entre. O médium é o canal, a ponte, o que media. Assim também é o criador. Ele não está nem na origem nem no fim. Habita o meio. Entre a ideia que paira sobre nós e o “espírito do tempo”.
Criar é, em parte, se tingir pelo outro. Deixar-se atravessar. Ser permeável àquilo que ainda não tem nome, mas já pulsa. Canalizar não só as energias externas, mas as internas também. O trabalho do estilista, do artista, de quem conta histórias por meio de tecidos e imagens, é esse: escutar e traduzir aquilo que não foi dito, mas já vibra no ar.
É isso que nos guia até o corpo. Não apenas o da modelagem, mas o corpo como território de necessidade. Um campo vibrátil. Porque às vezes basta um milésimo de segundo para que algo toque e revele o que precisa ser coberto, escondido, transformado.
Foi assim com Jane Birkin (1946–2023) e o dono da Hermès, quando criaram juntos a bolsa que viria a ser um ícone. Assim também com tantos pares de musas e criadores, como se estivessem sentados ao redor de uma mesa branca, ouvindo o que o mundo pede e traduzindo em forma.

Créditos: Bolsa Birkin “original”, pertencente a Jane Birkin.
Na Souedo, não é diferente. Cada coleção é uma escuta. Um ritual. Uma antologia vestível composta como se fosse ditada por vozes: pequenas intuições, inquietações, espectros. Como se estivéssemos mesmo em uma dessas conversas de mesa branca, canalizando a alma do mundo e o que seus “espíritos” nos dizem, num murmúrio que só a roupa, ou a imagem, pode traduzir.
Mas ir para o corpo não é desenhar para si. Nem para o outro. É ir até o corpo do mundo. Sua alma, sua carne coletiva.
Como fazia Christo (1935–2020), o artista, ao envolver monumentos, pontes e paisagens com panos imensos — não para escondê-los, mas para revelá-los de outra maneira. Para dizer que existe beleza naquilo que se cobre, e que o gesto de vestir também é um gesto de atenção.

Créditos: Christo envolvendo uma estátua em Villa Borghese em Roma; 1965.
E como fez também o outro Cristo, o Salvador, que cobriu os desamparados não com tecido, mas com presença. Vestindo os nus com a dignidade e palavra. Ele que, não apenas se cobriu, mas assumiu o sofrimento do outro em seu próprio corpo, fazendo da sua carne um véu rasgado entre o divino e o humano.
Vestir, nesses dois casos, é tornar visível o invisível. É reconhecer a forma como o mundo sangra e, mesmo assim, tentar contê-lo num gesto de cuidado.
Minha professora de teatro costuma dizer isso. Discípula de Antunes Filho (1929–2019) e esculpida nas tragédias de Nelson Rodrigues, ela tem um entendimento profundo do que paira sobre a vida. Para ela, o ator não atua: incorpora. Ele é um médium em cena. A cada personagem, canaliza um fragmento do mundo. E talvez seja isso que me fascina tanto: a criação como uma forma de incorporação, como vestir o espírito do tempo com a roupa certa.
Na sua visão, e agora também na minha, a vida é uma grande casa de bonecas. E nós, ao mesmo tempo, criador e criatura. Brinquedo e ser brincado. Vestimo-nos não apenas para aparecer, mas para encenar. Para habitar a comédia muda de uma fashion week trivial.
Talvez eu não seja seu melhor aluno. Não domino a leveza de Tchékhov (1860–1904) nem a precisão quase trágica das rubricas rodriguianas. Mas sou, ainda assim, um bom ouvinte. Um médium. Um criador de antologias e de faz de conta. A minha mediunidade não vem do misticismo, mas da escuta. Eu me deixo tingir pelo mundo.
Não ajo por inteligência — ao menos não por aquela que calcula, planeja ou antecipa. Meu gesto é outro: uma forma de inteligência que nasce do pressentimento. Uma sensibilidade que, como escreveu Clarice Lispector (1920–1977), não é menor do que o saber racional, mas talvez anterior a ele. “É uma inteligência sem método, como a luz que acende sozinha”, ela diz. E é assim que caminho. Criando roupas, imagens e narrativas como quem acende pequenas luzes dentro da roupa do mundo.
E talvez, por isso, mesmo quando a coleção terminar e os temas mudarem, o criador da Souedo ainda continue sendo um críptideo. Um ser à margem. Um espírito entre mundos. Porque toda antologia vestível nasce de um médium. E permanece, mesmo quando já partimos rumo a outra narrativa, como vestígio do que foi canalizado.
Referências Bibliográficas:
LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.