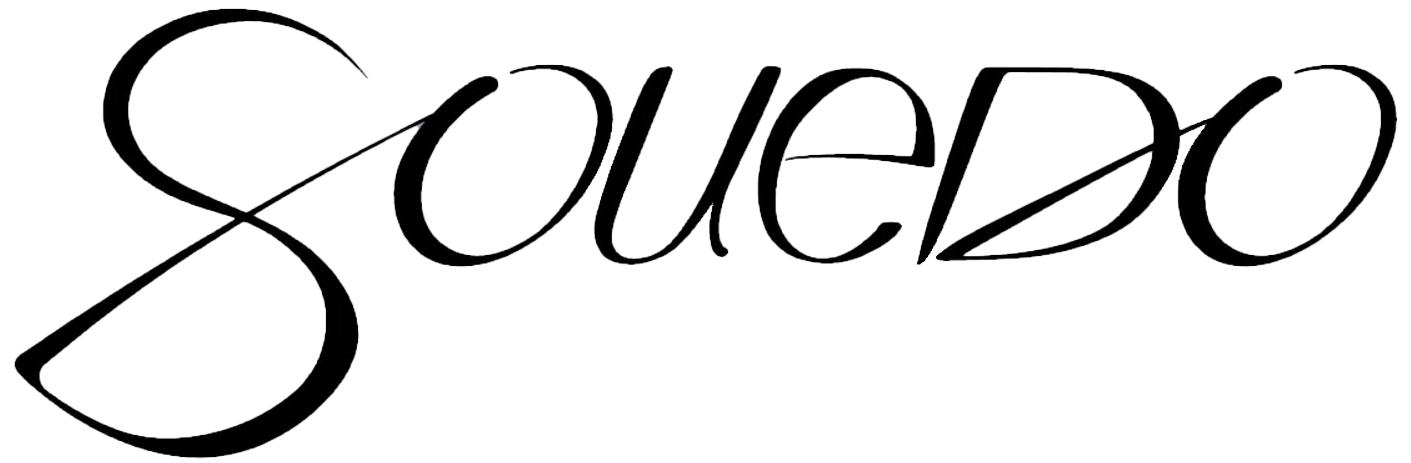Inveja: um sentimento de críptideo
Créditos: Gravura anônima, séc. XVIII/XIX. Ilustração para A Odisseia, de Homero. Domínio público.
Existe sentimento mais humano que a inveja? Há algo, além do bater do coração e do ar em nossos pulmões, tão intrínsecos a nódas quanto ela?
Se há, não sabemos.
Há dias em que só sentimos inveja: inclusive escrevemos o que estamos a escrever por causa dela. E, por não poder, como muitos, gritar em alto e bom tom que sinto esse sentimento, afinal, além de criptídeos, somos também humanos, mesmo quando tentam tirar nossa humanidade.
Ao trazer esse sentimento aos holofotes do tema que conduz nosso primeiro ano, não seria estranho afirmar que a inveja é um sentimento intrínseco aos criptídeos. Como Tântalo, nós queremos o fruto que não alcançamos. Queremos pertencer e queremos, acima de tudo, que as pessoas não nos olhem como párias.
Além disso, vivemos num tempo propenso ao florescer desse sentimento. Hoje, a inveja deixou de ser um sentimento oculto e tornou-se, paradoxalmente, uma engrenagem pública. As redes sociais, por exemplo, só funcionam quando atravessadas pelo desejo de ter, ser e parecer no espetáculo diário ao qual todos assistimos e participamos. Afinal, quem não gostaria de estar onde habitam os vencedores?
A inveja, antes silenciosa, hoje se performa: em posts, em curtidas, em narrativas cuidadosamente editadas para provocar ou suscitar admiração. Mas, no fundo, continua sendo o mesmo movimento íntimo de sempre: querer pertencer, querer ser visto, querer não ser tratado como uma espécie de estrangeiro.
Talvez não seja exagero dizer que a própria lógica da indústria da moda nasceu desse impulso. Quando a burguesia se instala, as leis suntuárias caem, e os limites que separavam as vestimentas dos nobres e dos comuns começam a ruir. A inveja se transforma, então, num motor econômico: a burguesia passa a copiar o vestuário da aristocracia, obrigando as elites a acelerarem as mudanças de estilo para manter a diferenciação.
Como explica Pierre Bourdieu, o gosto é um marcador de distinção. As elites culturais rejeitam aquilo que se populariza. E, quando um símbolo se massifica, ele perde sua função original: separar. Assim, a moda passa a operar nesse movimento contínuo: criar, massificar, abandonar. O que antes era privilégio, torna-se item de massa; e, por isso mesmo, está sempre em vias de ser descartado por quem ditava seu valor simbólico.
A moda nasce, assim, desse jogo de espelhos: do desejo de ter o item exclusivo, de construir um estilo único, de pertencer a um grupo e, ao mesmo tempo, de manter-se à frente, inalcançável.
Hoje, esse mesmo mecanismo persiste, transfigurado: seguimos consumindo para nos distinguir, comprando para sinalizar pertencimento, desejando ser únicos e, paradoxalmente, iguais aos que admiramos.
Mas há também a inveja que dirigimos a nós mesmos: ao que fomos e deixamos de ser.
Talvez essa seja a forma mais íntima e inevitável da inveja: aquela que se disfarça de nostalgia, que revisita os nossos melhores momentos, das nossas versões passadas que, agora, parecem inalcançáveis.
Para o criador, essa inveja pode ser a mais perigosa, mas também a mais fértil.
Olhamos para aquilo que fizemos e desejamos não apenas repetir, mas superá-lo; e, no entanto, sabemos que não somos mais quem éramos quando criamos. Apaixonamo-nos pela obra como Pigmalião, que se enamora da estátua que ele próprio esculpiu. Não pelo que ela é, mas pelo que ela pode confirmar: que, em algum momento, acertamos; que alguém viu valor naquilo que colocamos no mundo.
Todos nós já fomos confrontados com algo assim. E, muitas vezes, insistimos em retornar a esse lugar, como quem tenta, novamente, chegar próximo de Deus. Talvez seja isso que nos move. Mas, nesse esforço, corremos o risco de nos tornarmos clichês, paródias de nós mesmos.
O clichê, é verdade, tem seu valor. Já dissemos isso por aqui, em outros textos: ele é um lugar comum, uma língua universal onde podemos, ainda assim, nos encontrar. Mas também nos condena à obsolescência, à ultrapassagem, à previsibilidade. E o criador, que deveria ser o agente da novidade, corre o risco de se reduzir a isso: uma repetição esvaziada, uma tentativa “pálida” de reescrever um livro que já foi escrito.
E, quando nos damos conta disso, resta a pergunta: até onde podemos insistir nesse retorno sem nos perdermos? Ainda não sabemos como responder a esse questionamento, ainda mais sendo uma marca nova, cuja repetição se faz importante para criar símbolos e um vocabulário reconhecível, que seja da marca, tal qual outras já estabelecidas, como a Chanel, com suas camélias e tweeds.
No fim, a inveja/nostalgia e a repetição são apenas expressões diferentes do mesmo movimento: o desejo de permanecer, de não ser esquecido, mas também de pertencer.
Criamos não apenas para inovar ou resistir ao tempo, mas para encontrar um lugar onde possamos ser vistos, reconhecidos, aceitos. Talvez seja justamente essa tensão, entre o que já fomos e do que ainda queremos ser, que nos mantém em movimento. E, sobretudo, criando, mesmo quando a grama do vizinho parece ser mais verde.