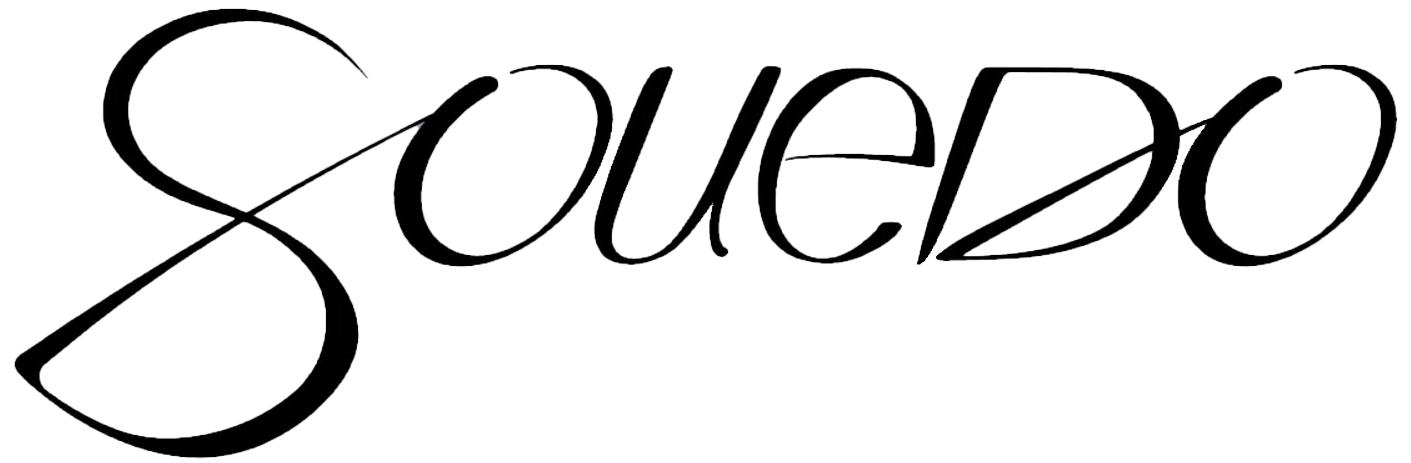Entre Bordéis, Moda e Palcos
Todo teatro é um bordel.
Talvez essa não seja a primeira metáfora que venha à mente quando pensamos em teatro ou em qualquer arte clássica. Ao imaginar um palco, os signos que cercam essa palavra tendem a nos levar ao berço da atuação ocidental: a Grécia. Podemos visualizar o anfiteatro de Atenas, peças como Medeia, Édipo Rei, ou mesmo Shakespeare.
Contudo, somos brasileiros, e nossos teatros não são clássicos. Por aqui, o bordel sempre foi teatro.
Ele se manifestou nas casas de luz vermelha do início do século XX, nos salões de dança, na literatura naturalista de Aluízio de Azevedo (1857–1913) e no carnaval: nosso próprio Commedia dell’arte.

Créditos: Daniel Azevedo, diretor criativo da Souedo, em a Gota D’agua de Chico Buarque 2024; Arquivos Souedo.
E o que é o teatro, senão isso? Um espaço onde desejos, verdades e ilusões convivem lado a lado, tal qual um bordel, onde diferentes pessoas entram em busca de entretenimento e fantasia. É o local onde a sociedade revela seus paradoxos, onde as normas são suspensas por algumas horas e se performa aquilo que não pode ser à luz do dia.
E, no Brasil, essa metáfora ganha contornos ainda mais complexos.
O bordel não é apenas um espaço de compra e venda de ilusões — ele é um reflexo da formação do país. Ao citar William T. Vollmann no livro A Metafísica da Puta, Laurent de Sutter nos oferece uma frase do novelista que aprofunda ainda mais nossa relação decolonial com o teatro. Vollmann diz:
“Se eu quiser de fato saber como é a vida real em um desses países (onde eu viajo), é só pegar uma prostituta e viver com ela por um tempo. Eu vejo a vida como ela vê. Em uma semana, você aprende tanto quanto se estivesse ficado no hotel por um ano (2014, P. 63)”.
A Souedo vai além: se quiser entender um país de verdade, entre em seu bordel. Adentre seu teatro. Observe o que é encenado e, sobretudo, o que é silenciado. Perceba os gestos que escapam do controle, as palavras ditas num tom mais alto, aquelas sussurradas. Mas também não se restrinja ao palco. O que não está em cena também conta uma história: os corredores, o burburinho da plateia, os atrasados buscando lugar, os olhares que tentam decifrar o que veem.

Créditos: Daniel Azevedo, diretor criativo da Souedo, em Peer Gynt 2023; Arquivos Souedo.
No teatro, a vida se revela com uma velocidade assustadora. O tempo de uma peça, e tudo o que acontece ao seu redor, equivale a anos de vida, porque ali, comprimido no espaço de um ato, há o que se tem de mais essencial: o drama da existência e de nossas próprias histórias. Uma história é transformada em arte, em rito, e devolvida ao real. Como um ciclo que nunca se encerra, mas se reinventa.
Um ciclo de antologias.
Mas o bordel não é apenas teatro. Ele também é um sinthoma.
No mesmo livro, A Metafísica da Puta, Sutter nos apresenta esse conceito descrito por Jacques Lacan, que diferencia o sintoma do sinthoma. Para Lacan, o sintoma comum é algo que pode ser diagnosticado, analisado — um sinal que aponta para um significado oculto e que pode ser tratado. Já o sinthoma resiste. Ele não busca ser compreendido, porque não carrega uma resposta definitiva. Ele é uma assinatura do sujeito, algo que lhe é único e que continua pulsando, mesmo quando se tenta disfarçá-lo com uma roupa, um figurino ou uma identidade moldada pela norma. Algo que, na moda, chamar-se-ia de estilo.
No bordel, assim como no teatro e na moda, há algo que persiste. Algo que não pode ser completamente contido. Esses três espaços compartilham essa qualidade: são performances em constante negociação, mas dentro delas há sempre algo que escapa, que resiste ao enquadramento, que desafia a lógica da encenação previsível.
O bordel e o teatro não são apenas lugares onde se assume um papel: para muitos, são espaços de existência, onde se vive uma versão de si mesmo que, talvez, seja a única verdade possível. Já a moda nunca é apenas sobre tendências, mas sobre o corpo que se inscreve nelas, transformando roupas em identidade.
E é justamente aí que surge a percepção de nós mesmos: na diferenciação com o outro, alicerçada no corpo. Mas engana-se quem pensa que esse autoconhecimento é algo intrínseco ao homem. Essa experiência é inumana, conquistada pelas trocas, pelos espelhos, pelo devir homem-semelhante-homem. E onde mais essa construção se torna visível, senão na moda e no teatro?

Créditos: Daniel Azevedo, diretor criativo da Souedo, em Peer Gynt 2023; Arquivos Souedo.
David Le Breton, em Adeus ao Corpo, nos lembra que, nas culturas ocidentais, o corpo é um dos principais veículos de individualização, e que sua identidade está implícita na relação do corpo consigo mesmo (2007, p. 86). Ao retirar ou colocar algo nesse corpo, o sujeito entra em uma zona de ambiguidade: as fronteiras simbólicas se rompem.
Nossas fronteiras, como brasileiros, também se rompem quando insistimos em olhar o teatro apenas como teatro — e não como bordel. Quando negamos nossas referências e origens. Quando tentamos ajustar nosso olhar ao olhar do outro para justificar uma identidade (DOLTO, 2008, p. 40), perdemos o essencial: é preciso aglutiná-la, incorporá-la à nossa própria realidade, aqui, deste lado da linha do Equador.
Ora, nossos palcos são diversos e não seguem a lógica italiana. Nossos personagens são múltiplos e mestiços. O Brasil é o “paraíso das três raças”. E nossos rostos, corpos e as marcas que nos vestem carregam esse emaranhado de ficção e verdade.
Em vez de nos moldarmos ao outro, talvez devêssemos adaptar os cânones à função da nossa realidade, como muitas marcas já fazem (ex: Aluf, Normando, Misci e Souedo).
Quando a mente não reconhece, no outro, as particularidades que compõem um rosto, ela projeta naquele vazio seus próprios medos. O que deveria ser rosto vira máscara. E essa dissociação de si presente no desenvolvimento de tantos personagens e em seus estilos, revela a ruptura do espelho, o ruído na formação da identidade.
Mas se é para vestir máscaras, que sejam as nossas. E quão belas são as nossas máscaras!
O quão potente é poder ter, em Gota d’Água, de Chico Buarque, nossa própria Medeia. E, na moda brasileira, Dener e Clodovil são a nossa alta-costura. Zuzu Angel foi a criadora da moda nacional e responsável por fazer com que tantas marcas de agora olhem para o Brasil como fonte legítima de inspiração.
Nos povos indígenas, a roupa nunca foi apenas roupa. O manto tupinambá, por exemplo, não é mero adorno. É um território simbólico, um corpo em linguagem. No Brasil, onde a memória nacional é frequentemente apagada, vestir-se, e ir a um espetáculo teatral, é um ato de resgate.
Cada peça de roupa colocada ou retirada reescreve a narrativa de quem a veste. Vestir-se é sempre um ato performático, tanto na moda quanto no teatro, onde o corpo se torna linguagem. Ela é a extensão do personagem, do “eu”. É a nossa armadura do dia a dia. Como Yohji Yamamoto disse:
"Você pode brincar com a roupa para se tornar outra pessoa, outras pessoas. É divertido, é alegria."
O bordel, o teatro e a moda sempre foram espaços de transformação. De transgressão. E, sobretudo, de narrativa.
Porque o bordel do real não termina quando o espetáculo acaba. Ele continua pulsando: na cidade, nos corpos, na memória que tentam apagar; nas roupas que a indústria insiste em dizer que não se pode mais usar, mas que insistem em permanecer, carregadas pelo apego emocional das nossas histórias e dos momentos decisivos das nossas vidas.
Referências Bibliográficas:
DE SUTTER, Laurent. Metafisica da Puta. Belo Horizonrte: Editora Âyiné, 2024.
DOLTO, Françoise; NASIO, J. – D. A Criança do Espelho. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008. Vol. 3. Ed.
LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998.
LE BRETON, David. Adeus ao Corpo: Antropologia e Sociedade. Campinas: Papirus, 2007. 2. Ed.